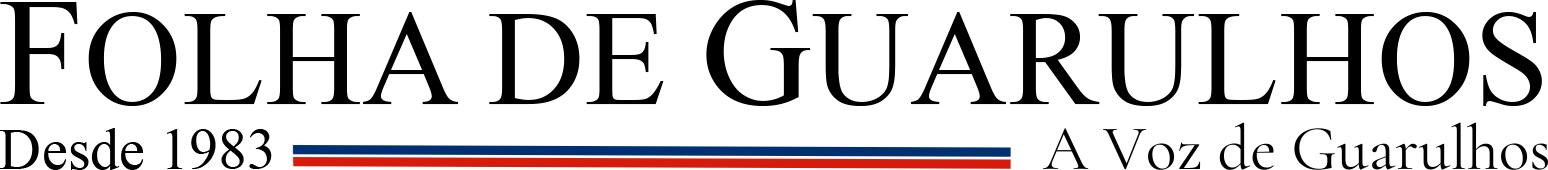O 8 de janeiro de 2023 ficará marcado na memória nacional como um dos dias mais sombrios da democracia brasileira. Entre os atos de vandalismo e violência que assolaram Brasília, um símbolo precioso do passado foi destruído: o relógio de Balthazar Martinot, uma peça única que atravessou séculos como testemunha silenciosa da formação de nosso país. A destruição não foi apenas física; foi simbólica, um ataque ao próprio conceito de civilidade e respeito à história. O responsável pelo ato bárbaro foi identificado e condenado, mas a pena imposta de 17 anos de prisão levanta reflexões importantes sobre sua proporcionalidade. Embora a gravidade do crime seja evidente, a condenação deve ser analisada sob a luz de um princípio fundamental: a proporcionalidade da pena. A punição deve ser justa e equilibrada, considerando a natureza do crime e sua comparação com outros atos igualmente ou mais graves no ordenamento jurídico.
A sentença reforçou a ideia de que a sociedade brasileira não tolera ataques ao que nos define como nação. Mas, enquanto o criminoso do presente é punido, o relógio, mesmo destruído e restaurado, carrega em si um outro crime, bem mais antigo e ainda não reparado: o cometido pelo próprio Estado contra aqueles que, um dia, foram seus legítimos proprietários.
O relógio de Martinot, trazido ao Brasil por Dom João VI em 1808, era um bem particular. Não foi adquirido com recursos públicos, mas fazia parte do patrimônio privado da família real portuguesa, que atravessou o Atlântico fugindo das guerras napoleônicas. Em sua essência, ele não era um símbolo do poder estatal, mas da herança pessoal e familiar dos Bragança. Passou de pai para filho, de Dom João VI para Dom Pedro I, e, posteriormente, para Dom Pedro II. Seguiu, como manda o direito dinástico, a linha de sucessão dos imperadores do Brasil. Era, sem dúvida, um bem privado, pertencente à família imperial, protegido pelos princípios jurídicos que regem a propriedade particular.
No entanto, com a Proclamação da República, em 1889, o relógio e inúmeros outros bens da família imperial foram confiscados pelo novo regime. Não se tratou de uma expropriação legal, tampouco de uma nacionalização legítima. Foi um ato político arbitrário, que ignorou completamente o direito de propriedade. Sem qualquer processo legal, sem qualquer compensação financeira, o Estado republicano apropriou-se de bens que não haviam sido adquiridos com dinheiro público, mas sim herdados ou adquiridos pela família imperial ao longo de gerações. Foi um ato de força, uma violação direta do direito à propriedade e uma injustiça histórica que nunca foi corrigida.
O relógio de Martinot, que hoje é visto como patrimônio público e cultural, só chegou a essa condição por meio de um crime contra seus legítimos proprietários. A família imperial, expulsa do país e banida por décadas, viu seus bens transformados em símbolos do novo regime, sem qualquer reconhecimento da origem privada desses objetos. O Estado brasileiro, que deveria ser o guardião da justiça, consolidou uma apropriação indevida e perpetuou, ao longo de mais de um século, a narrativa de que esses bens sempre pertenceram ao povo. Mas não pertenciam. Foram apropriados à força, num gesto que, se analisado sob a luz do direito contemporâneo, configuraria uma violação dos mais básicos princípios do Estado de Direito.
Essa apropriação, ainda hoje, não foi reparada. O relógio, restaurado e devolvido ao Palácio do Planalto, agora simboliza não apenas a resistência de nossa história, mas também a contradição de um Estado que se coloca como defensor de um bem que adquiriu de forma ilícita. A condenação do destruidor do relógio é justa em sua essência, mas sua severidade deveria nos fazer refletir sobre a coerência do sistema penal. Enquanto um crime do presente é exemplarmente punido, o crime do passado, cometido pelo próprio Estado, permanece sem reparação.
É evidente que a devolução desses bens à família imperial é uma questão praticamente inviável, tanto pelo tempo decorrido quanto pelo valor cultural que eles adquiriram ao longo de sua integração ao patrimônio público. No entanto, isso não exime o Estado de reconhecer o erro histórico cometido. Um reconhecimento formal, acompanhado de uma reparação simbólica, seria um passo importante para corrigir, ao menos parcialmente, essa injustiça. Ignorar a origem privada desses bens é perpetuar o erro, é legitimar um ato arbitrário sob a máscara de um discurso de preservação cultural.
A apropriação dos bens da família imperial pelo Estado republicano não foi apenas uma violação jurídica, mas um golpe desumano que relegou uma das mais ilustres figuras da história do Brasil a um fim indigno. Dom Pedro II, reconhecido por líderes globais de sua época como um dos monarcas mais cultos, justos e progressistas, foi expulso de sua pátria sem ao menos ter o direito de se despedir de seus compatriotas ou enterrar seus entes queridos em solo brasileiro. Sua família, despojada de seus bens pessoais, enfrentou o exílio em condições financeiras precárias, dependendo da venda de joias e doações de monarquistas para sobreviver. O homem que havia dedicado sua vida à educação, ciência e estabilidade do Brasil morreu em Paris, em 1891, em um modesto hotel, com poucos recursos, mas carregando consigo uma dignidade que nem o confisco nem o exílio puderam destruir. O descaso do novo regime com um imperador que governou por quase meio século com sabedoria e honradez foi mais do que um ato político; foi um ato de ingratidão histórica. Pedro II poderia ter levantado resistência, mas escolheu abdicar com serenidade para evitar o derramamento de sangue de seus compatriotas, enquanto o mesmo Estado que ele governou confiscava seus bens e o bania como se fosse um criminoso. Essa apropriação arbitrária, tingida de desumanidade, perpetuou não apenas uma injustiça material, mas um ferimento moral contra um homem que governou o Brasil com visão e equilíbrio em uma época de profundas transformações.
O relógio de Martinot é, portanto, uma peça que carrega em si duas histórias. Uma de resistência, de restauração e de punição ao crime atual. Outra, de apropriação indevida, de silenciamento e de uma injustiça histórica que ainda aguarda reparação. O Estado brasileiro, que se ergue como defensor do patrimônio cultural, precisa olhar para si mesmo e reconhecer que sua relação com o relógio – e com tantos outros bens – começou com um ato ilícito. Só assim poderemos, de fato, honrar a história que tanto buscamos proteger.
Em 8 de janeiro de 2023, vimos a destruição de um símbolo. Mas o que o relógio também nos ensina é que a história não é feita apenas de atos de barbárie visíveis, mas também de injustiças sutis, que se perpetuam sob o manto da legalidade. Se quisermos realmente aprender com o passado, é hora de encarar essas verdades e buscar justiça em todas as suas formas – para o presente, mas também para o passado.